Por Luciana Ramos
Nos anos 30, a popularização de livros (muitos lançados como folhetins de jornais) que exploravam a corrupção e a sua relação intrínseca com a profusão de crimes em antes pacatas comunidades americanas cimentava em forma literária o clima pessimista do país, um combo que unia a desilusão institucional à escassez econômica.
Neste contexto, nomes como os dos escritores Raymond Chandler, Dashiell Hammett e Erle Stanley Gardner tornaram-se famosos. Mais tarde, na década seguinte, suas histórias tomaram forma no cinema em filmes pré-moldados em narrativas que abusavam de voz em off, o tom trágico e traços estéticos bem marcados, muitos desses importados da Europa.
A definição noir (noite, em francês) dada ao gênero só surgiria ainda mais tarde, nos anos 60, nas mãos dos críticos da Cahiers du Cinèma e compreende, sob ângulo histórico, a produção cinematográfica hollywoodiana dos anos 40/50 que explorava o cinismo em relação à sociedade em tramas que questionavam o sistema político – que respingava na ambiguidade moral dos personagens – e consequentemente as possibilidades de futuro dentro de um mundo fragmentado.
A similaridade com o momento em que vivemos torna bastante compreensível a escolha dos showrunners Ron Fitzgerald e Rolin Jones em readaptarem o personagem noir Perry Mason em uma nova roupagem, concedendo-lhe uma história de origem que explora o seu caminhar tortuoso em uma investigação que esgaça uma poderosa rede de corrupção na cidade de Los Angeles.
O seu ponto de partida é a morte de um bebê, sequestrado de um casal humilde, Emily (Gayle Rankin) e Matthew Dodson (Nate Corddry), em troca da quantia de 100.000 dólares – ainda mais expressiva para a época da Grande Depressão, período abarcado pela série. Mesmo com o dinheiro em mãos e seguindo todas as orientações, os aflitos pais não puderam recuperar seu filho com vida.
O choque da sociedade diante de um crime tão inescrupuloso movimenta esforços de diferentes esferas de poder: a polícia promete uma prisão rápida; já o patrono da Igreja Assembleia de Deus Radiante, Hermann Baggerly (Robert Patick), contrata E. B. Jonathan (John Lithgow) para representar legalmente o casal Dodson, quase instantaneamente acusado de negligência. O advogado, por sua vez, requer os serviços dos investigadores Perry Mason (Matthew Rhys) e Peter Strickland (Shea Whigham), que partem em busca de pistas sobre o assassinato.
Tão logo começam a investigar, os dois homens – ambos beberrões e acostumados a caminhar fora da linha da legalidade – farejam condutas investigativas estranhas e conexões entre personagens díspares da cena de L.A. que parecem, no mínimo, suspeitas. Suas descobertas, no entanto, são sempre atropeladas pelo ágil e espetaculoso processo judicial, comandado por entrevistas inflamadas do promotor Maynard Barnes (Stephen Root), que muda de suspeitos e acusações conforme sua vontade e, mesmo sem provas contundentes, consegue mobilizar a opinião pública.
O que a primeira temporada de Perry Mason oferece, portanto, é uma ampla discussão sobre moralidade, corrupção e fé a partir de um sistema de crenças (sejam elas religiosas ou não) que levam às pessoas a apontarem seus dedos em riste e julgarem publicamente os que não se comportam conforme as condutas esperadas deste jogo social. Este, conforme pontuado pelo caso envolvendo as estrelas hollywoodianas do primeiro episódio, é hipócrita e, por si só, corrompido, pois pauta-se em uma série de falhas, sejam elas de caráter individual, coletivo ou mesmo sistêmico.
Discutem-se neste arcabouço, por exemplo, as inúmeras dicotomias da Assembleia de Deus Radiante: a relação do sentido da fé versus o apelo iconoclasta, o glamour dos cultos versus a pobreza dos fiéis e, acima de tudo, a distância entre os ensinamentos da religião e a preocupação financeira de uma instituição que visa o lucro.
Os temas elencados são discutidos a partir de uma trama de suspense que instiga o espectador a tentar solucionar o caso junto à Mason. Embora contenha tantos elementos cínicos, a série da HBO consegue dirimir o tom sombrio com as sucessivas reviravoltas e o teor espetaculoso de todo o processo, tornando-a mais palatável – o que difere um pouco do tom noir, mas é bem-vindo para contrabalançar a realidade brutal de 2020.
Algumas outras alterações são feitas ao modelo original, sendo a mais expressiva a diversificação de pontos narrativos. Além do protagonista, que tem seus traumas e desilusões bem fundamentadas em flashbacks e conversas entrecortadas ao telefone, há a troca das femme fatales (mulheres cujo proposito narrativo é atrair o “homem noir” para a ruína) por figuras femininas fortes. Della (Juliet Rylance) é um grande exemplo pois, desde o início, mostra-se muito mais do que uma secretária para E.B., atuando como parte fundamental da defesa pelos seus vastos conhecimentos empíricos da Lei e a astúcia com que identifica pequenas falhas nas narrativas criadas pela acusação. Ademais, ela vive de maneira discreta, mas feliz com sua namorada Hazel (Molly Ephrain) e, embora seja obrigada a esconder este lado fim de não ser julgada socialmente, soube construir uma trilha independente para si em que a felicidade foi mais do que uma possibilidade distante.
O policial Paul Drake (Chris Chalk), por sua vez, possui uma jornada mais extensa e irregular no que concerne ao seu papel social. A posição que ocupa, embora seja um avanço aos olhos da sua comunidade, não possui força efetiva de atuação, já que suas ações são constantemente minadas por pessoas racistas em posições mais elevadas na hierarquia policial. Enquanto ouve da esposa Clara (Diarra Kilpatrick) que o melhor é baixar a cabeça e aquiescer, ele não consegue espantar o incômodo em relação à investigação do assassinato de Charlie Dodson e, em determinado momento, faz a escolha de andar nas bordas da lei a fim de contribuir com a solução do crime – ou, como Mason diz, “fazer o que é certo, não o que é legal”.
A fotografia segue a modernização da obra, optando por uma iluminação que explora pontos focais e estabelece o jogo de luz e sombra, mas esquiva-se da composição mais escura e dramática do noir, salvo algumas cenas pontuais em que tais artifícios são usados para o enaltecimento narrativo. A série obviamente beneficia-se do investimento típico da HBO, refletido nas proporções gigantescas dos cenários, figurinos e figurantes. A excelência da produção é acompanhada do talento do elenco de peso, composto por Matthew Rhys, John Lithgow, Gayle Rankin, Chris Chalk, Juliet Rylance e Tatiana Maslany, entre outros, que sabe potencializar o roteiro com atuações críveis, complexas e sensíveis.
Ao unir a tradição de um personagem já conhecido a uma produção de ponta, Rolin Jones e Ron Fitzgerald constroem uma série que sabe explorar suas virtudes em uma trama envolvente e bem amarrada, que não deixa pontas soltas, mas direciona os personagens ao final para novos rumos, abrindo espaço para outras temporadas. “Perry Mason” é uma ótima pedida não só para os fãs do gênero, como para todos que anseiam por entretenimento de qualidade.
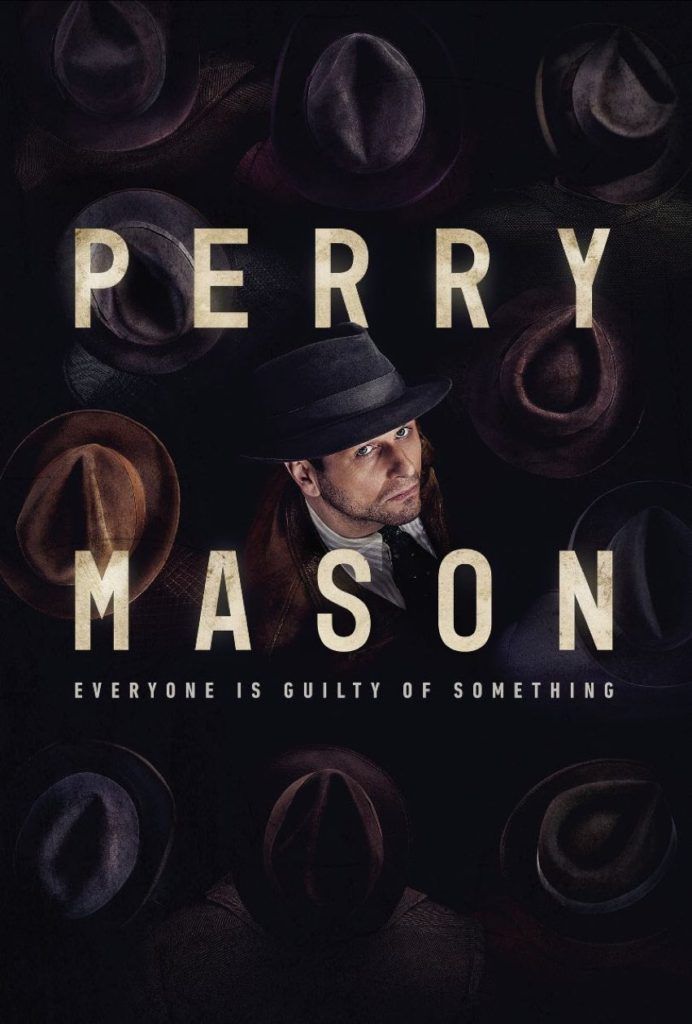
Ficha Técnica
Ano: 2020 – em andamento
Número de Episódios: 8 (por temporada)
Nacionalidade: EUA
Gênero: noir, crime, drama
Criadores: Ron Fitzgerald, Rolin Jones
Elenco: Matthew Rhys, Juliet Rylance, Chris Chalk, Shea Whigham, Tatiana Maslany, John Lithgow, Gayle Rankin, Lili Taylor










